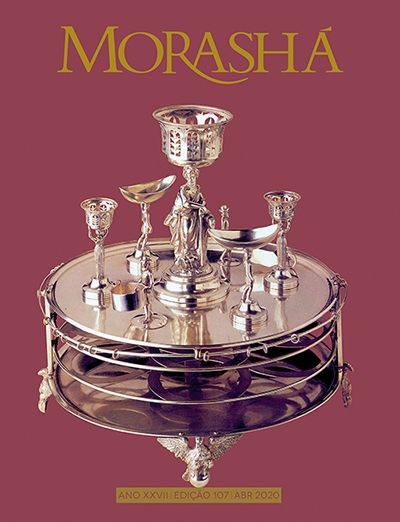Ao longo de 75 anos de História, a pergunta mais instigante ainda não teve uma resposta convincente: Por que as grandes potências não impediram o Holocausto? Os Estados Unidos e a Inglaterra, líderes dos países aliados na 2ª Guerra Mundial, pouco ou nada fizeram para obstar o extermínio de seis milhões por uma razão tão lógica quanto simples: os judeus eram descartáveis.
A partir da segunda metade da década de 1930, no século passado, os prenúncios do Holocausto foram se tornando cada vez mais visíveis, tendo como marco mais maligno, em novembro de 1938, a Noite dos Cristais, quando pelotões paramilitares do Partido Nazista quebraram as vitrines de 815 lojas pertencentes a judeus, depredaram 171 residências, vandalizaram 76 sinagogas e incendiaram outras 191 em todo o território alemão, além de assassinar 36 judeus. Dois anos antes daquela noite infame, a Agência Judaica se dirigiu ao governo do Reino Unido, formulando dois pedidos: intervenção dos mandatários britânicos para coibir a violência desencadeada por milícias árabes, que varria o território da antiga Palestina, e o aumento da cota de emigração para os judeus europeus. Era evidente que o nazismo logo assumiria proporções violentas e a Palestina era o único refúgio para os judeus que, se fosse possível, iriam ao encontro de outras centenas de milhares que ali já viviam numa moldura de estrutura social bem-sucedida e bem organizada.
Como se comporta a maioria dos governos, quando hesita para tomar alguma decisão, o governo inglês nomeou um distinto cavalheiro, Lord Peel, para chefiar uma comissão de averiguação dos distúrbios in loco. Assim foi concretizada a Comissão Peel que percorreu a Palestina com criterioso empenho investigativo e, no dia 7 de julho de 1937, apresentou um relatório final propondo a partilha do território entre árabes e judeus.
A proposta dividiu a liderança judaica no Congresso Sionista Mundial daquele ano. Metade desaprovou o traçado da partilha, embora concordasse com o conceito em si da divisão que teve Chaim Weizmann e Ben Gurion como seus mais ardorosos defensores. Ambos julgavam que tal partilha seria um ponto de partida para a futura expansão. O gabinete inglês, por seu turno, aprovou o plano e fez o que lhe era de hábito: nomeou mais uma comissão para esmiuçar o relatório da Comissão Peel. Assim surgiu a Comissão Woodhead que mal saiu do papel.
Frustrada com a Comissão Peel, a liderança judaica continuou pressionando as potências europeias no sentido de que fosse encontrada uma solução para abrigar a massa de refugiados judeus alemães que começava a vagar por diversos países, sem perspectivas de acolhimento. Finalmente foi marcada para o dia 5 de julho de 1938 a Conferência de Evian, na França, com a participação de nações da Europa e da América Latina, inclusive o Brasil. Os delegados dormiram bem, comeram bem e beberam muita água mineral Evian, a atração daquela bucólica estação de repouso. A Agência Judaica foi representada por Golda Meir, que, em suas memórias, destacou a sonolência provocada pelos discursos dos delegados.
Ao cabo de nove dias bem aproveitados pelos diplomatas, restou apenas uma proposição da República Dominicana, disposta a receber 10 mil judeus. Mesmo do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos, na pessoa do presidente Franklin Roosevelt, torpedearam a proposta. Roosevelt argumentou para seu círculo mais próximo que, com certeza, depois de acolhidos no Caribe, aqueles judeus encontrariam uma forma de aportar nos Estados Unidos. Esta decisão de Roosevelt foi apenas uma pequena mostra de sua postura indiferente e até mesmo hostil com relação aos destinos dos judeus antes e durante todo o transcurso da Segunda Guerra Mundial.
O ano de 1939, fora a invasão da Polônia pela Alemanha Nazista, foi particularmente sombrio para os judeus da Europa e também da Palestina, o chamado ishuv. No dia 7 de fevereiro o governo britânico instalou uma ampla conferência com a participação de árabes e judeus. Mais uma vez a violência na Palestina era o foco central dos debates, mas a delegação da Agência Judaica buscava, ao mesmo tempo, uma solução para os refugiados que se acumulavam na Europa. À frente da delegação judaica estavam Chaim Weizmann e Ben Gurion. Este insistiu que a delegação judaica não se limitasse apenas à Agência, uma entidade sionista, mas fosse rotulada como Delegação Judaica, de modo e a alcançar maior abrangência, incluindo antissionistas, como o famoso escritor Sholem Asch, ali presente. Weizmann apresentou quatro itens para os debates: os judeus não deveriam ser considerados minoria na Palestina; o mandato inglês deveria ser continuado; permissão para a entrada na Palestina de maior número de imigrantes; incentivos econômicos para o desenvolvimento da região. Por estar fora do escopo da conferência, a questão dos refugiados foi discutida à parte, mas sem maiores avanços. Em maio, a resposta inglesa a todas as demandas foi terrível e traiçoeira:
O governo de Sua Majestade emitiu o White Paper, um documento que fechou a ferro e fogo as portas da Palestina para a entrada de imigrantes judeus. Se o White Paper de 1939 não tivesse existido, o número de vítimas do Holocausto com certeza teria sido muito menor.
Poucos dias antes da emissão daquela tirânica proibição, um numeroso grupo de proeminentes judeus poloneses enviou um telegrama para o primeiro-ministro britânico, Neville Chamberlain. O telegrama implorava que lhes fosse permitido partir para a Palestina. Não houve qualquer resposta. Em 2019, um pesquisador encontrou o original daquela mensagem nos arquivos do Departamento Colonial Inglês, sem indicação de que tivesse chegado às mãos de qualquer autoridade do governo britânico.
Enquanto o telegrama polonês percorria o cabo submerso do canal da Mancha, o mesmo mar era navegado pelo navio St. Louis, que partira de Hamburgo rumo a Cuba, levando 937 refugiados de diferentes países europeus. Depois de inúmeras complicações e previsíveis evasivas diplomáticas, os St. Louis não pode atracar em Havana, nem em qualquer porto dos Estados Unidos, por ordem expressa de Roosevelt. O navio regressou ao porto de origem e seus passageiros foram levados para campos de concentração.
Naqueles anos terríveis que antecederam o Holocausto houve apenas um momento de alívio. Foi a iniciativa do Kindertransport (Transporte de Crianças), na qual países europeus se reuniram para organizar comboios que levariam crianças, sem seus pais, para a Inglaterra, aonde seriam acolhidas em casas de famílias espalhadas por todo o país. O gabinete inglês aprovou o transporte dois dias antes da Noite dos Cristais e o primeiro trem, com 400 crianças, partiu no dia 2 de dezembro de 1938. No total, foram conduzidas 10 mil crianças, a maioria das quais nunca mais tornou a ver seus pais e mães.
As dúvidas e indagações que ainda pairam sobre o Holocausto começaram a ser, em boa parte, dissipadas a partir de setembro de 2019, em função do lançamento, nos Estados Unidos, do livro The Jews Should Keep Quiet (Os Judeus Deviam Ficar Quietos, em tradução livre). Seu autor é o professor Rafael Medoff, que lecionou história nas universidades de Ohio e de Nova York. Atualmente é diretor executivo do Instituto David S. Wyman de Estudos do Holocausto. O livro de Medoff é devastador ao escrutinizar, com extensa documentação e vasta bibliografia, o comportamento referente aos judeus por parte de Franklin Delano Roosevelt, a partir de sua primeira posse na presidência, em 1932, e durante todo o conflito mundial. Em paralelo, o livro aborda o relacionamento entre Roosevelt e o rabino Stephen Wise, um gigante do judaísmo americano e do sionismo internacional.
Durante todo o período em que o Holocausto foi perpetrado, Roosevelt manteve uma atitude de inarredável intolerância. Afirmava que era muito difícil e arriscado salvar os judeus, que era impraticável o bombardeio da estrada de ferro que conduzia a Auschwitz. Acrescentava que, mesmo se pretendesse intervir de alguma maneira, suas mãos estavam atadas pelo Congresso e pela opinião pública que, na verdade, naquela época, abrigava uma forte corrente antissemita.
Roosevelt mantinha estreita amizade com o rabino Wise, que tinha acesso ilimitado à Casa Branca. O presidente, inclusive, se referia a essa aproximação com o rabino como uma demonstração explícita de que nada tinha contra os judeus, muito pelo contrário.
Stephen Wise nasceu na Hungria em 1874, filho e neto de rabinos. Chegou aos Estados Unidos com dois anos de idade e cresceu na cidade de Portland, Oregon. Adolescente, se destacou como orador carismático, advogando igualdade para os negros e apoiando o New Deal, programa social e econômico formulado por Roosevelt, que resgatou os Estados Unidos da recessão após a catástrofe originada pela quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. Ao contrário da maioria dos rabinos de orientação reformista, Wise se engajou com extraordinário empenho na causa sionista. Foi uma das primeiras grandes vozes antinazistas na América e liderou um movimento de boicote a produtos importados da Alemanha. Em 1936, fundou o Congresso Judaico Mundial, com sede em Genebra, cuja principal incumbência era combater o crescente nazismo na Alemanha.
Dois anos mais tarde, Wise já se notabilizara nos círculos políticos de Washington por suas discussões com Roosevelt a respeito da Palestina. O presidente lhe dissera, durante uma ocasião, que não havia a possibilidade de a Palestina absorver maior número de judeus. Wise lhe descreveu com pormenores as boas condições sociais e econômicas em que vivia o ishuv e pediu sua intervenção junto ao governo inglês para a liberação de 150 mil vistos de imigrantes para a Palestina. A solicitação não foi além da conversa. Àquela altura, entrou no circuito o juiz judeu Felix Frankfurter, da Suprema Corte, que enviou ao presidente um longo dossiê sobre as perspectivas de desenvolvimento dos judeus na Palestina. Resultado: zero. Nos telegramas diplomáticos trocados entre Londres e Washington, os ingleses diziam que, no tocante à Palestina, “os judeus já tinham atingido o seu ponto de saturação”. Em outubro daquele ano, Fankfurter foi à Casa Branca para um debate, como ele mesmo revelou, cara a cara com o presidente. Entre outros argumentos, lembrou que os Estados Unidos haviam apoiado a Declaração Balfour, em 1917. Roosevelt lhe prometeu que enviaria para Chamberlain uma carta substanciosa a favor dos judeus. A carta nunca foi enviada.
Em 1942, a adoção da “Solução Final” pelo regime nazista vazou até Washington e Londres. Wise liderou uma denúncia emanada dos países aliados advertindo o mundo para o extermínio que se prenunciava. No ano seguinte, Wise tornou público seu desapontamento com Roosevelt. O governo americano permanecia irredutível na sua inação com relação aos milhões de judeus que estavam sendo deportados e assassinados na Europa.
A despeito de suas frustrações com o presidente americano, Stephen Wise continuou acumulando esforços para salvar os judeus e, depois da guerra, foi fundamental no auxílio aos sobreviventes refugiados. Redobrou suas atividades sionistas e ainda pôde testemunhar o nascimento do Estado de Israel. Morreu no dia 19 de abril de 1949, aos 75 anos de idade.
O acervo de Roosevelt está preservado na Biblioteca e Museu Presidencial, localizado na Albany Post Road no estado de Nova York. Muitos documentos ali guardados fazem referência aos anos da ascensão do nazismo e ao Holocausto. Em face do assombroso número de notícias que chegaram à Casa Branca, fica evidente que as reações do presidente foram bastante comedidas. Ao serem divulgados os acontecimentos da Noite dos Cristais pelas agências de notícias internacionais, um judeu assessor da presidência, chamado Benjamin Cohen, entregou à secretária particular do presidente uma carta do rabino Wise, na qual este pedia a Roosevelt alguma ação mais enérgica contra o nazismo. Ficou por isso mesmo. Quando os serviços de inteligência dos aliados informaram sobre a Conferência de Wansee, em 1942, e a consequente resolução da “Solução Final”, os poderes em Washington simplesmente não souberam, ou não quiseram, avaliar o que aquilo significava. Em dezembro de 1942, Edward Murrow, o famoso correspondente americano sediado em Londres durante a guerra, transmitiu pelo rádio, através do Atlântico, a seguinte notícia: “Não há mais campos de concentração na Europa, há campos de extermínio destinados aos judeus”. A Casa Branca então se limitou a emitir uma nota condenando “os bestiais assassinatos a sangue-frio”. O cientista político Henry L. Feingold escreveu num trabalho intitulado “A Política do Resgate”: “As informações sobre o extermínio dos judeus chegaram ao governo em novembro de 1942. Durante 14 meses o presidente não moveu uma palha. Só atuou quando sentiu que poderia estourar um escândalo sobre esse assunto”.
Essa atuação consistiu numa proposta ao primeiro-ministro britânico Winston Churchill, para que ambos se reunissem no arquipélago das Bermudas, no Atlântico Norte, sob possessão inglesa, aonde os americanos já haviam instalado bases navais. A finalidade específica do encontro era tratar da questão dos refugiados. A conferência foi aberta no dia 19 de abril de 1943, por trágica ironia, o mesmo dia em que o exército nazista desfechou o ataque final e fatal contra os resistentes do Gueto de Varsóvia. O local escolhido, a principal ilha das Bermudas, correspondia a uma cínica estratégia. Como o lugar era de difícil acesso, haveria um número reduzido de jornalistas e os debates tratariam dos refugiados, em geral, e não dos judeus, em particular. Tanto assim, que o Congresso Judaico Mundial, embora tivesse formalmente solicitado, foi impedido de participar. A pauta da reunião foi encolhida ao máximo e houve uma firme recomendação de que não caberiam considerações sobre a “Solução Final”. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos se comprometiam a manter estagnado o número de cotas de imigração, a Grã-Bretanha asseverava que a Palestina permaneceria trancada para os judeus. Um item da reunião referente à possibilidade de serem enviados pacotes com suprimentos para os campos de concentração, foi descartado antes mesmo de ser discutido. As assessorias de Roosevelt e de Churchill, nas Bermudas, eram constituídas por funcionários de segundo escalão que passaram todo o tempo tentando elaborar a instituição de um comitê intergovernamental que discutiria diretamente com os alemães a questão dos refugiados. Era uma ideia rigorosamente absurda porque os desdobramentos da guerra não tornavam viável qualquer contato com o Terceiro Reich.
A Conferência das Bermudas foi encerrada no dia 30 de abril e os protagonistas emitiram um comunicado abjeto, conforme relata o historiador Arthur Morse em seu livro While Six Million Died (Enquanto Seis Milhões Morriam, em tradução livre). As duas potências afirmaram, sem o menor resquício de pudor, que haviam alcançado resultados positivos “para a proteção de refugiados de todas as raças e credos”.
No dia 12 de maio, onze dias depois do encontro nas Bermudas, suicidou-se em Londres um judeu chamado Shmuel Zygielboim, de 48 anos de idade, que tinha escapado de Auschwitz. Ele deixou uma carta endereçada ao governo polonês no exílio, na qual escreveu: “Não posso permanecer em silêncio. Não posso viver enquanto a comunidade judaica da Polônia, à qual pertenço, está sendo aniquilada. Meus amigos no Gueto de Varsóvia morreram com armas nas mãos em sua última e heroica batalha. Não foi meu destino morrer ao lado deles, mas estou ao lado de todos na nossa cova coletiva. Com a minha morte, pretendo fazer um último protesto contra a passividade com a qual o mundo está permitindo o extermínio do Povo Judeu. Sei que nos dias atuais a vida humana pouco vale, mas espero que minha morte possa abalar a indiferença daqueles que, num último momento, ainda possam salvar os judeus poloneses que sobrevivem. Meu adeus a todos que amei”.
Apesar de fazer parte das forças aliadas, a União Soviética não foi convidada, por insistência de Churchill, para a Conferência das Bermudas. O líder britânico não suportava Stalin e dele desconfiava antes, durante e depois da guerra. Na verdade, Churchill tinha toda a razão por não acreditar em Stalin que, ao mesmo tempo em que combatia na guerra já fazia planos para tornar comunista toda a Europa Oriental.
É impossível determinar uma data precisa para o início do Holocausto, mas a matança dos judeus foi um sinal verde dado aos nazistas quando Stalin assinou com Hitler um improvável pacto de não agressão no dia 28 de setembro de 1939, menos de um mês depois da invasão da Polônia, o país da Europa que concentrava o maior número de judeus. Em maio de 1942, um grupo clandestino de judeus conseguiu mandar uma mensagem para o governo exilado polonês, informando que, de junho de 1941 a abril do ano seguinte, mais de 700 mil judeus tinham sido executados. No dia 25 de junho o jornal inglês Daily Telegraph publicou a seguinte manchete: “Alemães assassinam 700 mil judeus na Polônia”. Dois dias depois, foi a vez do Daily Mail: “O maior pogrom. Morrem um milhão de judeus”. O Holocausto fazia sua estreia na imprensa internacional.
Os arquivos soviéticos referentes à Segunda Guerra não registram uma só manifestação de Stalin relativa ao Holocausto. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética, traindo o pacto então existente, as comunidades judaicas foram os alvos prioritários das tropas SS. O massacre de 33.771 judeus na floresta de Babi Yar, na Ucrânia, foi ignorado pelas autoridades do Kremlin que, apesar do conflito, mantinham o antissemitismo como política oficial do estado.
Os soviéticos só se fizeram presentes no âmbito do Holocausto quando, em 1944, o Exército Vermelho libertou o campo de extermínio de Auschwitz. A par das narrativas sobre os crimes e atrocidades feitas pelos sobreviventes, uma pergunta avultou no mundo inteiro: por que os americanos, ou os ingleses, não destruíram os trilhos que cruzavam a Europa e tinham a monstruosidade de Auschwitz como estação final?
A administração Roosevelt se manteve firme no propósito de não arriscar sua força aérea em quaisquer missões que tivessem como objetivo interromper o avanço da “Solução Final”. Em abril de 1944, dois judeus lograram fugir de Auschwitz. Percorreram a pé milhares de quilômetros até chegaram à Eslováquia aonde encontraram outros judeus. Os dois homens escreveram um dossiê com 30 páginas que ficou conhecido como “Protocolos de Auschwitz”. Além das descrições de todos os horrores, ambos desenharam um mapa do campo de extermínio, mostrando as exatas localizações das câmaras de gás e dos fornos crematórios. Seriam um alvo fácil para bombardeios, até porque os aliados tinham absoluta supremacia nos céus da Europa. Essa documentação foi enviada para os Estados Unidos e seria apresentada num Congresso Americano-Polonês, recém-instalado. Era do interesse da Casa Branca agradar os poloneses, que constituíam uma das maiores comunidades de imigrantes dos Estados Unidos, com vistas às eleições que aconteceriam em novembro de 1944. Os “Protocolos” foram mencionados por alto no tal congresso e acabaram sumindo.
O ataque a Auschwitz ou à ferrovia também poderia ser sido feito pela Inglaterra, mas nunca contou com a aprovação de Churchill que também cultivou uma atitude reticente durante os anos do Holocausto. O motivo exposto por Churchill por não ter bombardeado a via férrea que conduzia a Auschwitz é tão leviano quanto o americano. Ele argumentou que no segundo semestre de 1944 o Exército Vermelho já tinha ocupado a Polônia Oriental e, portanto, aquele território estava praticamente anexado à União Soviética. Assim, na sua avaliação, Stalin não gostaria de ver aviões da Royal Air Force sobrevoando terras que já lhe pertenciam.
Todas as atividades de Churchill durante a Segunda Guerra Mundial estão bem pormenorizadas pelo consagrado historiador Martin Gilbert na biografia que escreveu de Winston Churchill. Contudo, Gilbert peca por minimizar as ações de Churchill contrárias aos judeus e por maximizar suas poucas intervenções sobre este assunto.
O livro se refere a uma reunião do Gabinete de Guerra britânico, na qual Churchill pede a seus membros que dediquem “especial atenção aos povos que estão sendo perseguidos”. Segundo Gilbert, o Gabinete ignorou a sugestão que, na verdade, sequer explicita os judeus. O biógrafo escreve que Churchill recomendava a seus subordinados que o mantivessem sempre muito bem informado sobre os deslocamentos de refugiados, porém, mais uma vez os judeus não são mencionados. Assim como também não foram mencionados nos noticiários radiofônicos da BBC, embora, segundo o autor do livro, Churchill tivesse entrado em conflito com a emissora do governo. Os diretores da rádio julgavam que notícias referentes aos assassinatos em massa de civis poderiam ocasionar pânico em toda a Europa. Entretanto, Churchill ganhou a queda de braço e o noticiário passou a ser transmitido sem omissões, com exceção ao que dizia respeito aos judeus. Há, ainda, outro episódio que chega a ser inacreditável. O Conselho Judaico de Luxemburgo enviou um pedido ao governo britânico para que este aceitasse acolher a reduzida população judaica do país. Segundo Gilbert, a dita carta foi engavetada e jamais levada ao conhecimento do primeiro-ministro. Finalmente, no início do ano de 1942, quando a “Solução Final” ainda não estava em curso, Churchill deu uma ordem no sentido de que qualquer judeu oriundo da Alemanha nazista que chegasse à Inglaterra receberia permissão para partir para a Palestina. Não há notícia de que, alguma vez, isto tivesse ocorrido.
O fato é que nas mais de mil páginas das memórias que publicou sobre a 2ª Guerra Mundial, Sir Winston Spencer Leonard Churchill não escreveu sequer uma linha sobre o Holocausto]
BIBLIOGRAFIA
Morse Arthur, While Six Million Died, Martin Secker & Wurburg, 1968, UK.
Medoff, Rafael, The Jews Should Keep Quiet, Jewish Publication Society, 2019, EUA.
Zevi Ghivelder é escritor e jornalista.