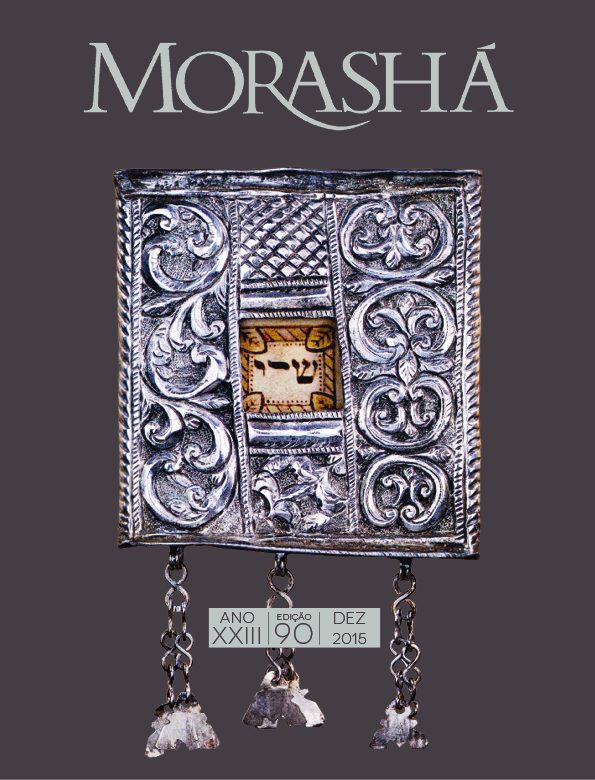É frequente ver tanto a esquerda quanto a direita israelenses interpretarem erroneamente Yitzhak Rabin. Ele não era um grande pacifista, como os esquerdistas gostam de apresentá-lo, nem um ingênuo idealista que estava disposto a colocar em risco a segurança de Israel, como afirmam os direitistas.
Rabin era um “falcão” no que dizia respeito à segurança de Israel, que dedicou sua vida a defender o Estado Judeu. No entanto, acreditava também que Israel tinha que tentar alcançar a paz com seus vizinhos árabes, pois estava convencido que a rejeição do mundo árabe em relação a Israel era decorrente da ausência de paz com os palestinos. Acreditava que Israel não poderia continuar a ser um Estado Judeu e democrático se anexasse todos os territórios capturados em 1967 nos quais viviam milhões de árabes. No entanto, acreditava também que havia um limite naquilo que Israel poderia oferecer aos palestinos sem comprometer sua segurança e renunciar à sua identidade como Estado Judeu.
Com base em suas declarações e, em especial, em seu último discurso no Knesset (Parlamento), em 5 de outubro de 1995, ficou evidente que Rabin já tinha em mente um esboço para um acordo final com os palestinos semelhante ao proposto por Yigal Allon em 1967.
Rabin acreditava que a paz com os palestinos envolveria um governo autônomo da Autoridade Palestina, não um estado pleno, com controle sobre cerca de 50% da Judeia e Samaria (Cisjordânia) e uma grande parte de Gaza. Jerusalém continuaria reunificada sob soberania israelense. As comunidades judaicas na Judeia e na Samaria ali permaneceriam. Sobretudo, Israel manteria o controle perpétuo sobre todas as áreas não cedidas aos palestinos, incluindo a fronteira internacional com o Egito e a Jordânia.
Muitas pessoas afirmam que se Yigal Amir não tivesse assassinado Rabin, Israel e os palestinos teriam feito a paz. Embora não se possa ter certeza sobre o que teria acontecido se Rabin ainda estivesse vivo, pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que Yigal Amir matou o primeiro-ministro de Israel, mas Arafat e outros líderes da Autoridade Palestina mataram os Acordos de Oslo. Atualmente sabe-se que, às vésperas de seu assassinato, por causa do terrorismo palestino, Rabin estava considerando encerrar o processo de Oslo.
Em uma entrevista concedida por ocasião do 15º aniversário da morte de seu pai, Dalia Rabin explicou que o pai estava a ponto de cancelar o acordo. Ela afirmou: “Pessoas próximas ao meu pai me disseram que, na véspera de seu assassinato, ele analisava a possibilidade de encerrar o processo de Oslo. Ele não era um cego que se jogava para frente”.
Mas não era apenas o terrorismo palestino que levanta sérias dúvidas se Rabin teria conseguido alcançar uma paz verdadeira com a liderança palestina. Vale lembrar que os primeiros-ministros Ehud Barak e Ehud Olmert propuseram concessões muito mais generosas do que as que Rabin desejava oferecer e, mesmo assim, os palestinos recusaram fazer a paz com Israel. É possível, porém, improvável, que tivessem aceitado o que Rabin estava disposto a conceder em troca de uma paz verdadeira.
Shlomo Ben-Ami, que foi ministro das Relações Exteriores do governo trabalhista de Ehud Barak, disse ao jornal israelense Haaretz, em setembro de 2000, que “As concessões de Arafat a Israel em Oslo foram formais. Moral e conceitualmente ele não reconheceu o direito de Israel existir. Ele não aceitou a ideia de dois estados para dois povos. Nem ele nem o movimento nacional palestino nos aceita... Mais do que desejam um estado para si, eles desejam cuspir nosso Estado para fora”.
Na Cúpula de Camp David, realizada em julho de 2000, o então primeiro-ministro Ehud Barak, querendo assinar um acordo de paz, ofereceu a Arafat não apenas a quase totalidade da Judeia e da Samaria, mas também grande parte de Jerusalém, incluindo o Monte do Templo. Arafat alegou ter recusado a oferta porque Barak se recusou a entregar o Kotel, o Muro Ocidental. Arafat então deu início à Segunda Intifada, muito mais sangrenta do que fora a primeira e que resultou na morte de mais de mil israelenses.
A liderança palestina e muitas pessoas, inclusive em Israel, alegaram que a Segunda Intifada havia sido provocada pela visita de Ariel Sharon ao Monte do Templo. Hoje sabemos a verdade.
Yasser Arafat, que na realidade nunca desistiu da violência e do terrorismo, planejara a Intifada antes que Sharon visitasse o Monte do Templo. Soubemos disso de fontes diferentes e confiáveis, inclusive de Suha Arafat, a mulher de Arafat. Críticos dos Acordos de Oslo afirmam que estes macularam o legado de Rabin. Várias pessoas fazem a mesma queixa em relação à postura de Menachem Begin diante da Guerra do Líbano, de 1982, e à retirada de Gaza decidida por Sharon. Tais críticas são injustas e injustificadas. Quando um líder adota determinada linha de ação – seja fazer a guerra ou engajar-se em negociações de paz – nunca tem certeza de qual será o desfecho. Yitzhak Rabin dedicou sua vida a lutar por Israel. Ele optou pela guerra quando esta se fez necessária, e então tentou fazer a paz “para que nossos filhos e os filhos de nossos filhos não tenham que experimentar o doloroso custo da guerra”.
Yitzhak Rabin se envolveu no processo de Oslo, algo muito difícil em termos pessoais, porque acreditava que este vinha de encontro aos interesses de Israel. É importante destacar que cada primeiro-ministro que o sucedeu – não apenas do Partido Trabalhista, mas também do Likud e do Kadima, chegaram a afirmar a necessidade de Israel renunciar à parte de seu Lar Nacional para conseguir a paz com os palestinos. Isso talvez seja a maior ironia em relação ao terrível crime cometido por Yigal Amir. Ele não conseguiu o que queria , não interrompeu o processo de paz.
Pelo contrário, os líderes que sucederam Rabin estavam dispostos a fazer mais concessões do que ele jamais faria. Yigal Amir não apenas manchou a história israelense e judaica e cometeu um Chillul Hashem – a profanação do Nome de D’us, mas levou a maior parte do mundo a acreditar que foi um judeu que matou o processo de paz. Muitos responsabilizam o colapso do processo de paz não ao terrorismo palestino e ao não cumprimento dos termos estipulados nos Acordos de Oslo, mas às balas disparadas por um criminoso que assassinou um dos maiores heróis israelenses.
Vinte anos se passaram desde o assassinato de Rabin. Quando se pergunta aos envolvidos no processo qual a maior realização do Acordo de Oslo, apontam para a Liga Árabe. O acordo, dizem, permitiu aos governos árabes saírem do imobilismo dos três “Não” da Conferência de Cartum, em 1967 – não à paz com Israel, não ao reconhecimento de Israel e não às negociações com Israel.
Outras quatro realizações tangíveis permanecem: o Tratado de Paz entre Israel e a Jordânia, a coordenação conjunta na área de segurança com os palestinos na Margem Ocidental desde a morte de Arafat; os acordos econômicos assinados por Israel com os palestinos, em Paris e a integração de Israel no mercado internacional. Desde a assinatura dos acordos, mais de 150 corporações internacionais entraram em Israel. A maior parte do sucesso da economia israelense nos últimos anos deve-se à assinatura dos Acordos de Oslo.
Yitzhak Rabin apresentou o II Acordo Interino de Oslo ao Knesset no dia 5 de outubro de 1995. Ao falar, ele descreveu o que acreditava ser o futuro do Estado Judeu: “As fronteiras do Estado de Israel serão além das linhas que existiam antes da Guerra dos Seis Dias”.
A fala final de Rabin perante o Knesset definiu seu legado, sua visão sobre Israel. Ele foi assassinado menos de um mês após esse discurso, em 4 de novembro de 1995, aos 73 anos de idade.
Seguem-se trechos desse discurso:
“Empenhamo-nos por uma solução para o interminável e sangrento conflito entre nós e os palestinos e os países árabes.
Dentro do arcabouço da solução, aspiramos alcançar, antes de mais nada, um Estado de Israel como Estado Judeu, com um mínimo de 80% de seus cidadãos que sejam, como o são, judeus.
Ao mesmo tempo, também nos comprometemos solenemente que os cidadãos não judeus de Israel - muçulmanos, cristãos, drusos e outros – gozarão de plenos direitos pessoais, religiosos e civis, como os de qualquer cidadão israelense. Judaísmo e racismo são diametricamente opostos.
Vemos a solução (entre Israel e os palestinos) dentro da estrutura do Estado de Israel que inclua a maior parte da Terra de Israel como a mesma era sob o Mandato Britânico, e ao lado da mesma uma entidade palestina que será o lar para a maioria dos residentes palestinos que vivem na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.
Gostaríamos que essa fosse uma entidade menos que um estado, e que governe, independentemente a vida dos palestinos sob sua autoridade.
As fronteiras com o Estado de Israel ficarão além das linhas que existiam antes da Guerra dos Seis Dias. Nós não retornaremos às linhas de 4 de junho de 1967.
E essas são as principais mudanças, não todas, que nós antevemos e desejamos para a solução:
A. Acima de tudo, uma Jerusalém unificada, que incluirá tanto Ma’ale Adumim quanto Givat Ze’ev – como a capital de Israel, sob soberania israelense, preservando os direitos dos membros das outras religiões, o Cristianismo e o Islã, a liberdade de acesso e liberdade de culto em seus lugares sagrados, de acordo com o costume de suas religiões.
B. A fronteira de segurança do Estado de Israel será localizada no Vale do Jordão, no sentido mais amplo desse termo.
C. O estabelecimento de blocos de assentamentos na Judeia e Samaria, como o que há em Gush Katif. Desejo enfatizar que: como Nação Judaica, devemos, acima de tudo, prestar atenção, aos lugares sagrados, à nossa religião, tradição e cultura. Fomos inflexíveis sobre esse ponto no Acordo Interino”.